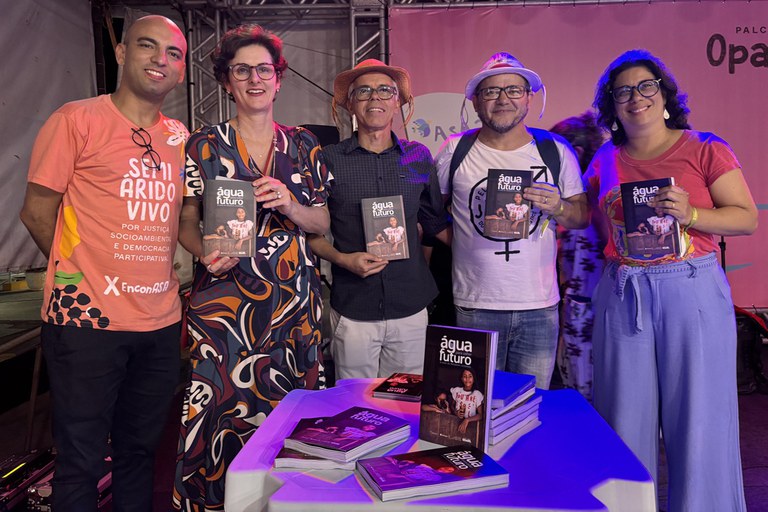Por Antônio Gomes Barbosa, sociólogo.
“Não somos resistentes. Somos reexistentes.”
A afirmação de Nêgo Bispo, pensador quilombola do Piauí, é mais do que uma provocação política — é uma chave epistemológica. Em vez de reagir às estruturas coloniais com o desejo de inclusão, Bispo propõe a continuidade de mundos que seguem vivos apesar da colonização. Em cada roda de conversa em uma farinhada, em cada mutirão de roçado, nas trocas entre parteiras, raizeiras e agricultores experimentadores, algo se move fora do mapa: são práticas ancestrais que sustentam mundos inteiros. E entre esses mundos, o pensamento de Bispo se ergue como uma teoria viva — uma teoria de mato, de encruzilhada e de autonomia. Sua obra não pede passagem: finca território.
Ao longo de décadas, Antonio Bispo dos Santos elaborou categorias próprias, como “contra-colonização”, “transfluência”, “confluência de saberes” e “cosmofobia”, que hoje atravessam debates acadêmicos. Em Colonização, Quilombos: modos e significados (2015), ele denuncia a renovação das formas de dominação, afirmando que a colonização apenas trocou de roupa: agora se apresenta como projeto, ONG, universidade ou lei. Sua crítica não busca apenas desmascarar estruturas de poder, mas afirmar a legitimidade de mundos que existem sem autorização. Ele chama de contra-colonização essa reação criadora dos territórios, que não é mera resistência, mas reinvenção dos próprios caminhos e cosmologias. Sua leitura de mundo se aproxima, em sentido conceitual, da ideia de autopoiese — não como termo assumido ou reelaborado por ele, mas como uma descrição possível da lógica que reivindica: a capacidade que os povos do território têm de produzir e sustentar suas formas de vida, seus modos de saber e suas práticas sociais sem a necessidade de mediação externa. Essa aproximação conceitual ajuda a iluminar a potência política do que Bispo propõe, sem forçar sobre ele um vocabulário que não reivindica.
Para Bispo, a convivência com o Semiárido não é uma política adaptativa nem um programa técnico. É uma forma de mundo. Não se trata de fazer os pobres sobreviverem às agruras do clima, mas de reconhecer que há formas de existência que florescem no calor da Caatinga, ritmadas por outros tempos, outros corpos e outras cosmologias. “Convivência não é adaptação. É autonomia”, afirmou em uma de suas falas públicas. Essa concepção recusa o modelo de integração oferecido pelo Estado e pelas instituições formais, insistindo na dignidade de continuar existindo a partir de si.
Essa perspectiva encontra ressonância na obra de Maria Sueli Rodrigues de Sousa, jurista, socióloga e professora piauiense, cuja trajetória foi marcada pela construção de um Direito enraizado na escuta, na ancestralidade e no compromisso com os povos do campo, das águas e das florestas. Em sua atuação intelectual e política, Sueli desenvolveu a pedagogia da ancestralidade como prática viva de resistência e reexistência, que desafia os modelos coloniais de saber e de tempo. Para ela, a ancestralidade não é um passado encerrado, mas uma presença orientadora que se manifesta nos gestos cotidianos de cuidado, escuta e lentidão — fundamentos de uma política enraizada nos ritmos da vida e não na produtividade compulsiva. Em suas falas públicas e textos acadêmicos, defendia que o saber ancestral, longe de ser residual, constitui-se como método para descolonizar o conhecimento, o ensino e o próprio Direito.
Ambos os autores — em campos distintos, mas enraizados na mesma terra — convergem ao tratar da convivência como insurgência epistêmica. Trata-se de recusar a tradução forçada dos saberes do território para os moldes institucionais. Bispo alerta que converter as práticas quilombolas em políticas padronizadas é uma forma de apagamento. É o que ele chama de “tradução para poder dominar”. Sua metáfora mais recorrente, a encruzilhada, não é mero ornamento poético: é conceito estruturante. “Na encruzilhada, todo mundo passa. Mas nem todo mundo para. E só quem para aprende alguma coisa com ela”, diz. Nela, os saberes não se fundem nem se anulam. Convivem em tensão, como os fios trançados de uma rede viva que não aceita hierarquia.
Essa visão da continuidade dos mundos encontra forma concreta na maneira como Bispo concebe o tempo e a transmissão de saberes. Em uma de suas falas mais marcantes, ele propõe uma ruptura com a lógica linear da modernidade — aquela que organiza a vida em começo, meio e fim — e a substitui por uma circularidade vital: “geração vó, geração mãe, geração neta: começo, meio, começo”. Nesse ciclo, o tempo não se encerra: ele se renova. A geração da avó carrega o início e a memória, a mãe sustenta o presente com suas escolhas e saberes, e a neta não representa o futuro, mas o reinício. Trata-se de um tempo encarnado, em que a oralidade, a escuta e a prática caminham juntas. Essa forma de ver o mundo não apenas recusa a ideia de progresso linear, mas afirma outra lógica temporal, profundamente enraizada na terra, nas relações e nos corpos que a habitam. Ao invés de destino, a história vira travessia. Ao invés de fim, recomeço.
A radicalidade dessa postura ecoa a epistemologia ch’ixi de Silvia Rivera Cusicanqui, que propõe uma convivência fraturada entre saberes sem síntese nem absorção, e as críticas de Leanne Simpson à domesticação dos conhecimentos indígenas. Contra esse modelo dominante de integração, Bispo propõe o respeito àquilo que persiste. Não como resistência romântica, mas como prática de continuidade. Por isso, sua ciência é do mato: é feita com os calos dos pés, com os olhos que leem o tempo das árvores e os ouvidos afinados com o som do chão. Parteiras, raizeiras, agricultores e griôs não repetem tradições mortas — cultivam uma ciência viva, que cuida, organiza e regenera o mundo.
Maria Sueli reforça esse caminho ao valorizar a escuta como gesto central de sua pedagogia da ancestralidade, entendida não como repetição do passado, mas como reorientação do presente a partir da presença dos que vieram antes. Em suas intervenções públicas e trabalhos acadêmicos, ela destacava que os corpos, os tempos e os territórios guardam saberes profundos, muitas vezes invisibilizados pelas lógicas institucionais e diagnósticos técnicos. Para Sueli, a ancestralidade não requer validação externa: ela se afirma por sua capacidade de sustentar a vida e regenerar o mundo. Essa visão converge com a de Nêgo Bispo, ao recusar a domesticação dos saberes populares e afirmar sua legitimidade plena — não por serem reconhecidos pela academia ou pelo Estado, mas porque seguem vivos, porque nunca cessaram.
Essa recusa à integração — também presente no pensamento de Arturo Escobar e em sua política da autonomia e do sentipensar com a Terra — ganha, em Bispo, uma forma encarnada no cotidiano dos territórios quilombolas. Não se trata de entrar no sistema, mas de interromper as expulsões. A convivência, para ele, não é um objetivo a alcançar. É o que já existe no passo lento de quem planta, no gesto ancestral de quem partilha, no cuidado de quem escuta sem traduzir. Reexistir, nesse sentido, é continuar produzindo mundos nos próprios termos, mesmo quando tudo ao redor exige adaptação, assimilação ou silêncio.
Em uma de suas falas mais citadas, Nêgo Bispo afirma: “Não estamos lutando por um mundo novo. Estamos cuidando para que o nosso mundo não desapareça.” A frase não se quer épica. Ela é raiz. E talvez por isso incomode tanto: porque exige mais do que política pública. Exige escuta. Exige coragem para parar na encruzilhada e não atropelar o que ali pulsa. Exige descolonizar o olhar, o tempo e o gesto. Seu maior ensinamento talvez seja este: não existe um único caminho. Existe a dignidade de caminhar com os pés no chão — e a sabedoria de saber onde não se deve pisar.
Nêgo Bispo e Maria Sueli Rodrigues, cada um a seu modo, anunciam que a luta não é por um lugar no mundo dominante. É por um outro modo de mundo. Um mundo que não precisa ser inventado — porque já existe, inteiro, na oralidade, na sabedoria do mato, na escuta da ancestralidade e na firme decisão de continuar existindo com dignidade.
Salve, salve!
Sueli e Nêgo Bispo, obrigado!