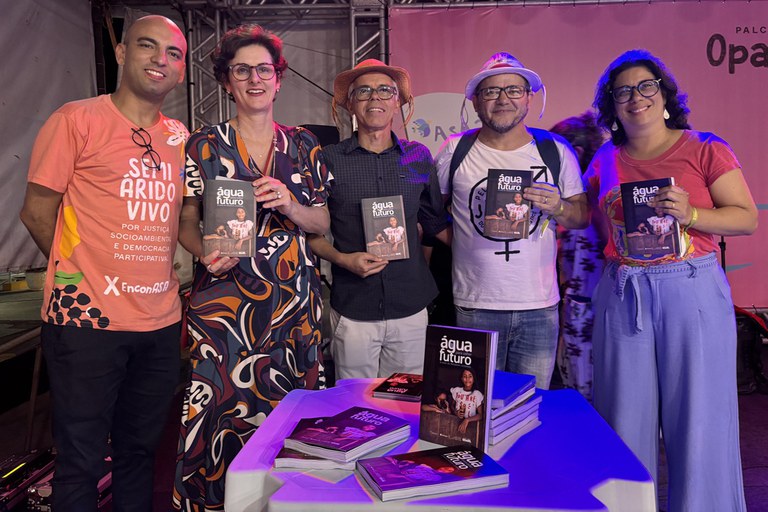Antônio Gomes Barbosa*
Alexandre
Ribeiro Botelho - Merrem**
Resumo
A
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) tem sido, desde
sua fundação em 1963, uma das mais importantes organizações de representação e
organização dos trabalhadores e trabalhadoras do campo brasileiro. Este artigo
reconstitui sua trajetória histórica, articulando os ciclos políticos nacionais
com os processos de auto-organização rural, a institucionalização dos direitos
sociais, as disputas em torno das políticas agrárias e de convivência com o
Semiárido e de fomento da produção e comercialização para o fortalecimento da
agricultura familiar. A análise percorre seis períodos: (1) fundação e
resistência à ditadura; (2) rearticulação democrática e Constituinte; (3)
consolidação da reforma agrária e da política sindical; (4) expansão das
políticas de convivência com o Semiárido; (5) defensiva institucional e riscos
recentes; (6) retomada democrática e novos desafios. Em cada etapa, são
destacadas ações relevantes, lideranças, campanhas, articulações institucionais
e os enfrentamentos com os projetos hegemônicos de desenvolvimento rural.
Quadro 1 – Principais Períodos da História
da CONTAG
|
Período
|
Características
principais
|
Governo
federal
|
|
1963–1964
|
Fundação,
mobilização pré-golpe
|
João
Goulart
|
|
1964–1985
|
Intervenção,
resistência e reorganização sindical
|
Ditadura
militar
|
|
1985–1994
|
Redemocratização,
Constituinte e reconhecimento de direitos sociais
|
Sarney,
Collor, Itamar Franco
|
|
1995–2015
|
Políticas
públicas, reforma agrária, programas de convivência
|
FHC,
Lula, Dilma
|
|
2016–2022
|
Golpe,
retrocessos institucionais, desmonte das políticas públicas
|
Temer,
Bolsonaro
|
|
2023–2025
|
Retomada
democrática, reconstrução institucional, novos desafios
|
Lula (3º
mandato)
|
1. A CONTAG entre a
fundação e o golpe (1963–1964)
A Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) foi criada em 22 de dezembro de 1963, no
contexto das reformas de base propostas pelo governo João Goulart. Sua fundação
resultou de um processo de mobilização iniciado nos anos 1950 com o surgimento
de associações de trabalhadores rurais, influenciadas por experiências anteriores
como as Ligas Camponesas de Francisco Julião em Pernambuco e a atuação da
Igreja Católica por meio da Juventude Agrária Católica (JAC). A criação da
CONTAG foi um marco no processo de sindicalização do campo, pois estabeleceu
uma representação nacional autônoma dos trabalhadores e trabalhadoras rurais,
num momento de intensificação das lutas pela reforma agrária.
Segundo Gohn (2011, p. 129), “o
sindicalismo rural surgiu no Brasil em meio a uma estrutura agrária
concentradora, buscando reconhecimento institucional e político para os
camponeses e assalariados do campo”. A CONTAG nasceu, portanto, como um projeto
de organização e resistência, voltado à construção de uma cidadania camponesa
num país ainda marcado por latifúndios, coronelismo e repressão.
Contudo,
poucos meses após sua fundação, o golpe civil-militar de 1964 interrompeu
violentamente esse processo. A recém-criada Confederação sofreu intervenção
federal, e dezenas de lideranças sindicais foram perseguidas, presas ou
exiladas. A estrutura sindical do campo foi submetida ao controle do Ministério
do Trabalho, que nomeava interventores nas federações e sindicatos. O projeto
de reforma agrária foi abandonado, e o sindicalismo rural foi instrumentalizado
pelo regime para fins de pacificação social.
2. Resistência e rearticulação durante a
ditadura (1964–1985)
Durante os 21 anos da ditadura
militar, a CONTAG passou por um processo de resistência silenciosa e
reorganização institucional, ainda que sob forte controle estatal. Apesar das
intervenções, a Confederação manteve atividades formais, utilizando os canais
permitidos pela legislação sindical para manter ativa a representação dos
trabalhadores. Com o tempo, lideranças camponesas começaram a reocupar espaços
nos sindicatos de base e nas federações estaduais.
A partir da década de 1970, com o
crescimento da oposição ao regime e a atuação das Comunidades Eclesiais de Base
(CEBs), formou-se uma aliança estratégica entre o movimento sindical e os
setores progressistas da Igreja Católica. Essa articulação foi fundamental para
a formação de novas lideranças e para a retomada das pautas de direitos e
reforma agrária. Segundo Navarro (2003, p. 44), “a construção da nova hegemonia
camponesa passou pela articulação entre cultura popular, teologia da libertação
e práticas sindicais de base”.
Um marco importante foi a organização
das FETAGs – Federações dos Trabalhadores na Agricultura – em vários estados,
como a FETAPE e a FETAG-RS, que passaram a atuar com maior autonomia e foco
formativo. Em paralelo, a CONTAG começou a sistematizar experiências de
formação e a construir sua base de dados sobre a realidade rural, preparando-se
para o contexto da redemocratização.
Como afirma Fernandes (2013), o
sindicalismo camponês do período ditatorial “foi se politizando na contramão do
Estado autoritário, valendo-se de brechas legais e do apoio das pastorais para
organizar a luta no interior”. A resistência à ditadura no campo brasileiro,
portanto, não foi apenas institucional, mas sobretudo territorial, por
fortalecer as articulações locais e regionais; cotidiana, pois esteve presente
no dia a dia da luta e resistência contra a ditadura e pedagógica por
possibilitar incontáveis espaços formativos cultivando aprendizados frutos de
um processo de construção coletivo do conhecimento, que semeavam transformações
sociais.
3. Redemocratização, Constituição de 1988
e fortalecimento da representação (1985–1994)
Com o fim do regime militar e o
início do processo de redemocratização, a CONTAG ampliou sua atuação política e
recuperou espaços institucionais, tornando-se uma das principais protagonistas na
defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. A participação
ativa da entidade na Assembleia Nacional Constituinte (1987–1988) foi
determinante para a consolidação de direitos previdenciários, trabalhistas e
fundiários no campo.
Entre as conquistas emblemáticas do
período está a inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no sistema de
seguridade social, com a criação da aposentadoria rural, o direito à
licença-maternidade e a extensão dos direitos previdenciários a homens e
mulheres. Foi também assegurado o acesso à terra como direito social, conforme
previsto no artigo 184 da Constituição de 1988. De acordo com Delgado (2012, p.
38), “o protagonismo da CONTAG na Constituinte garantiu que o mundo rural fosse
reconhecido como parte integrante da cidadania brasileira”.
Essa fase foi marcada ainda pelo fortalecimento
organizativo da base sindical. A fundação da Escola Nacional de Formação da
CONTAG (ENFOC) e a ampliação dos programas de formação de lideranças nos
sindicatos e federações estaduais permitiram um salto qualitativo na ação
sindical. O conceito de formação política e cidadã, que se tornou central na
estratégia da entidade, foi influenciado pelas metodologias freirianas e pela
experiência das pastorais rurais, como reconhece Silva (2010, p. 116): “a
pedagogia do oprimido, trazida por Paulo Freire, foi incorporada pelos agentes
da CONTAG como método de mobilização e consciência de classe”.
Nesse mesmo período, a CONTAG
intensificou seu diálogo com o Estado e com outras organizações sociais. Acompanhou
a criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Fórum
Nacional de Reforma Agrária e do campo progressista que passou a disputar as
políticas públicas no governo federal. Em um cenário de crise econômica,
hiperinflação e instabilidade política nos governos Sarney, Collor e Itamar
Franco, a CONTAG atuou tanto na denúncia das violências no campo quanto na
proposição de alternativas institucionais para a agricultura familiar.
4. A CONTAG na era das políticas públicas
e da convivência com o Semiárido (1995–2015)
No seu 6º Congresso Nacional de
Trabalhadores Rurais, realizado em 1995, a CONTAG inicia um amplo debate acerca
da necessidade de formular um Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário – PADRSS, para fazer frente ao projeto concentrador de
riquezas e de poder, elitista e hegemônico na sociedade brasileira. Nesse
sentido, foram promovidas, em âmbito nacional, estadual, regional e municipal, várias
ações de formação, pesquisa e debate, para que fossem elaborados e
sistematizados, de forma participativa e democrática, os conteúdos do PADRSS,
posteriormente aprovado no 7º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais, realizado em 1998. Foram aprovados os pontos centrais do PADRSS, os
quais orientaram a prática sindical e a sua ação política pelas décadas
seguintes, garantindo unidade de ação e visão estratégica de enfrentamento ao
projeto político conservador do agronegócio e das elites brasileiras.
A partir do segundo mandato de
Fernando Henrique Cardoso (1998–2002) e, sobretudo, com a chegada de Luiz
Inácio Lula da Silva à presidência em 2003, a CONTAG passou a atuar em uma conjuntura
mais favorável à formulação de políticas públicas voltadas à agricultura
familiar, aos povos do campo e à convivência com o Semiárido. O reconhecimento
da agricultura familiar como categoria legal, por meio da criação do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), marcou o início de
um ciclo de expansão de programas específicos, muitos deles com a participação
ativa da CONTAG desde a sua concepção e, em várias vezes, nas implementações de
projetos inovadores para vida digna no campo, visando a superação da fome e da
extrema pobreza.
Cabe destaque também a Marcha das
Margaridas, que desde o ano 2000, hoje na sua sétima Edição, vem sendo a maior
mobilização da organização de mulheres do Brasil. Em todas as suas realizações, apresentou um
conjunto de reivindicações para que se efetivem políticas públicas de proteção
das mulheres contra violência, de democratização do acesso à terra, de
agroecologia, de preservação da natureza e de inclusão digital para trabalhadoras
rurais. A Marcha da Margaridas, protagonizada pela CONTAG, em parceria com
muitos outros movimentos sociais, tornou-se símbolo da resistência de milhares
de homens e mulheres que buscam justiça e dignidade.
Durante os governos Lula e Dilma
Rousseff (2003–2015), a CONTAG se consolidou como uma das principais
interlocutoras do governo federal na elaboração e monitoramento de políticas
rurais. Participou ativamente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável (CONDRAF), do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (CONSEA) e de instâncias interministeriais voltadas à reforma
agrária, ao crédito rural e às políticas sociais, para o fortalecimento efetivo
da agricultura familiar. Segundo Sauer (2016, p. 55), “a institucionalização do
movimento sindical rural no período petista criou as condições para que as
demandas históricas da agricultura familiar fossem incorporadas ao orçamento
público e às agendas ministeriais”. As manifestações do Grito da Terra
Brasil foram potentes expressões nacionais do Movimento Sindical dos
Trabalhadores Rurais, realizadas anualmente, para garantir a negociação com os
governos federal e estaduais das principais reivindicações do campo brasileiro,
em que muitas dessas reivindicações viraram políticas públicas.
O processo formativo, desde a base
sindical, até as ações estaduais, regionais e nacionais, implementado pela
Escola Nacional de Formação da CONTAG, desde a sua fundação em 2006, se
constituiu fundamental ferramenta para a afirmação e defesa do Projeto de
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário- PDRSS, no cotidiano da vida
sindical nas cinco regiões do Brasil.
Destacam-se, nesse ciclo, os
seguintes programas:
- Programa
Um Milhão de Cisternas (P1MC): a atuação da CONTAG foi decisiva para a
capilaridade do programa, por meio dos sindicatos e das federações
vinculadas presentes no Semiárido. A organização incentivou a ação e a
mobilização das famílias para a adesão ao programa, combinando mobilização
social com controle popular. Segundo ASA Brasil (2014), os sindicatos
rurais tiveram papel crucial na articulação entre as comunidades, as
entidades executoras e os órgãos gestores.
- Campanha
Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural: lançada em 2004, essa
iniciativa conjunta com o MDA e a Secretaria de Políticas para as Mulheres
beneficiou mais de 2 milhões de mulheres com documentação civil,
trabalhista e previdenciária. A campanha foi reconhecida
internacionalmente como boa prática em políticas de equidade.
- Programa
Uma Terra e Duas Águas (P1+2) e Programa Sementes do Semiárido: a CONTAG, com
forte protagonismo das federações e sindicatos rurais do Semiárideo, sempre
teve em sua pauta de negociação, quer no Grito da Terra Brasil, quer nas
Marchas das Margaridas, os programas de acesso à agua e sementes, sendo essencial
para que os governos incorporassem a dimensão da convivência com o
Semiárido.
- Projeto
Quintais Produtivos das Margaridas: articulado em parceria com a
Secretaria de Mulheres da CONTAG, promoveu a soberania alimentar e a
valorização do trabalho das mulheres no meio rural. As experiências
mostraram que políticas públicas eficazes exigem territorialidade, gênero
e participação popular (CONTAG, 2013).
Nesse contexto, a CONTAG ampliou sua
capacidade política, não apenas no Brasil, mas também em articulações
internacionais como o COPROFAM (Coordenação de Organizações de Produtores
Familiares do Mercosul) e a Reunião Especializada da Agricultura Familiar do
Mercosul (REAF).
Ao mesmo tempo, a CONTAG manteve sua
estrutura baseada nas federações estaduais (FETAGs), fortalecendo sua presença
em todos os estados da federação e apoiando sindicatos em processos de
legalização, formação política e controle social. Essa atuação combinou
mobilização territorial, formação de base e institucionalização democrática, o
que caracteriza, segundo Gohn (2011), um dos modelos mais consistentes de
“movimento sociopolítico de base sindical” da América Latina.
5. Golpe de 2016, desmontes e ameaças aos
direitos (2016–2023)
O golpe parlamentar de 2016, que
resultou na destituição da presidenta Dilma Rousseff, inaugurou um período de
retrocessos nas políticas públicas voltadas ao campo e intensificou a ofensiva
contra os direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores e
trabalhadoras rurais. A extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA), a paralisação de programas como o P1MC, o fechamento de conselhos
participativos e a reforma trabalhista de 2017 sinalizaram um projeto de
desmonte da estrutura de participação e das garantias sociais construídas desde
a Constituição de 1988.
A CONTAG denunciou, desde o início,
os impactos dessa agenda de austeridade e desregulamentação. Além das perdas
diretas, como o fim de políticas específicas para a agricultura familiar, houve
um enfraquecimento institucional das federações estaduais e dos sindicatos de
base, afetados pela crise econômica e pela extinção da contribuição sindical
obrigatória. Como analisa Medeiros (2020), “as organizações sindicais no campo
enfrentaram, simultaneamente, a asfixia financeira, a criminalização política e
a ofensiva ideológica contra os direitos sociais”.
Durante o governo de Jair Bolsonaro
(2019–2022), esse processo se agravou com a militarização da política agrária,
a paralisação da reforma agrária e a repressão aos movimentos do campo. O
Estado se ausentou da coordenação de políticas de segurança alimentar no
Semiárido, e iniciativas como as cisternas escolares ou os quintais produtivos
foram abandonadas. Em muitos territórios, sindicatos rurais denunciaram o
avanço do agronegócio sobre terras públicas e áreas de uso comum, com o aumento
da violência, da grilagem e da destruição de bens comuns (Sauer & Almeida,
2021).
A CONTAG se viu obrigada a
reorganizar sua estratégia, fortalecendo articulações com organizações da
sociedade civil como a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), a Articulação
Nacional de Agroecologia (ANA), o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social
e articulações internacionais de luta contra a fome e a pobreza. Esse foi um
período de resistência, denúncia e tentativa de sobrevivência institucional
diante do avanço autoritário e ultraliberal do Estado.
6. Retomada democrática e desafios
contemporâneos (2023–2025)
A eleição de Luiz Inácio Lula da
Silva em 2022 representou uma inflexão política significativa para reafirmação
dos movimentos do campo. A retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a
reativação do CONSEA e do CONDRAF e a reinstitucionalização do Programa
Cisternas sinalizaram a reconstrução de espaços democráticos de interlocução
com o Estado e retomadas das políticas públicas voltadas para a agricultura
familiar e para os segmentos empobrecidos da sociedade.
A CONTAG retomou sua posição nos
conselhos nacionais e voltou a participar de fóruns internacionais, reafirmando
sua defesa dos princípios da reforma agrária, da agroecologia, da convivência
com o Semiárido e da valorização das juventudes e mulheres rurais. Ao mesmo
tempo, enfrenta desafios estruturais, como a necessidade de renovar sua base
sindical, recuperar sua capacidade formativa e reconectar-se com as novas
pautas do mundo rural, como as mudanças climáticas, a transição energética e os
direitos territoriais.
Segundo Leite (2023), “a reconstrução
democrática exige o reconhecimento do papel histórico do sindicalismo do campo,
não apenas como defensor de direitos trabalhistas, mas como ator estratégico na
construção de um modelo de desenvolvimento rural sustentável e participativo”.
Programas como o novo PAC das Águas,
o relançamento da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica
(PNAPO), o fortalecimento das políticas de sementes crioulas e dos quintais
produtivos recolocam a CONTAG como parceira fundamental na execução descentralizada
e territorializada das políticas públicas. Nesse contexto, a articulação com as
FETAGs e os Sindicatos de Trabalhadores Rurais STR’s é central para garantir
que as ações de governo tenham capilaridade e legitimidade social.
Contudo, os riscos não estão
superados. O avanço do neoconservadorismo, as disputas por orçamento e as
limitações institucionais do Estado exigem, do Movimento Sindical de
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - MSTTR, articulado nacionalmente pela
CONTAG, um esforço contínuo de mobilização, formação e unidade política.
Defender a CONTAG, neste novo ciclo, é também defender a democracia, os
territórios e os bens comuns.
Considerações Finais
A história da CONTAG expressa, de
forma exemplar, as disputas por projeto de sociedade no Brasil rural. Em seis
décadas, a Confederação passou da resistência à ditadura à institucionalização
democrática; da exclusão do campo às políticas públicas de convivência com o
Semiárido; da repressão e violência à reforma agrária; da agricultura
ecologicamente insustentável à luta por agroecologia, da agricultura
degradadora à práticas agrícolas sustentáveis.
Sua trajetória mostra que os direitos
conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores rurais foram resultado de
organização, formação política, alianças estratégicas e protagonismo social e
político. Como destaca Navarro (2003), “não há políticas públicas no campo que
não tenham sido conquistadas e disputadas por sujeitos organizados, com voz e
projeto político próprio” (p. 59).
Em tempos de incerteza e transição, é
preciso reconhecer que a existência da CONTAG é uma condição para a própria
existência da democracia rural. Ela representa não apenas uma estrutura
sindical, mas um legado de luta, uma escola de cidadania e um espaço de
construção coletiva de alternativas para o Brasil rural.
Referências Bibliográficas
ASA Brasil. (2014). Programa Um Milhão de Cisternas:
Relatório de Impacto. Recife: ASA.
CONTAG. (2013). Caderno das Margaridas: Políticas
públicas e igualdade no campo. Brasília: CONTAG.
Delgado, G. C. (2012). Do capital financeiro na
agricultura à economia do agronegócio. Campinas: Editora da Unicamp.
Fernandes, B. M. (2013). A formação do MST no Brasil.
Petrópolis: Vozes.
Gohn, M. G. (2011). Movimentos sociais e políticas
públicas. São Paulo: Cortez.
Leite, S. P. (2023). Democracia rural e participação:
desafios contemporâneos. Revista de Estudos Rurais, 11(2), 31–49.
Medeiros, L. (2020). Crise sindical no campo:
resistência e alternativas. Revista Crítica Rural, 5(1), 12–27.
Navarro, Z. (2003). Mobilização social e participação
no Brasil rural. Estudos Sociedade e Agricultura, 1(21), 41–63.
Sauer, S. (2016). Agricultura familiar e políticas
públicas: avanços e limites no ciclo progressista. In: R. Mendes & J. Rocha
(Orgs.), Políticas Públicas e Sociedade Rural. Brasília: IPEA.
Sauer, S., & Almeida, L. C. (2021). Terra e poder:
conflitos fundiários e autoritarismo no Brasil. São Paulo: Expressão Popular.
Silva, R. L. (2010). Formação política e sindical no
campo: a experiência da ENFOC. Brasília: CONTAG.
*Antonio
Gomes Barbosa. Sociólogo, mestre em agroecologia e doutorando em gestão
sustentável de recursos naturais pela Universidade de Córdova, Espanha.
Coordenador de programas de acesso à água para produção e sementes crioulas
pela Articulação Semiárido Brasileiro – ASA.
** Alexandre
Ribeiro Botelho – Merrem. Educador popular, filósofo, bacharel em direito
e mestre em Agroecologia. Colaborador na formação de trabalhadores e
trabalhadoras rurais na Escola Nacional de formação da CONTAG - ENFOC e facilita
processos participativos para construção
de políticas públicas.